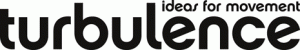Vivendo no limbo?
De Turbulence*
Estamos presos num limbo, nem uma coisa nem outra. Há mais de dois anos o mundo é sacudido por uma série de crises, e não há sinal de que elas serão resolvidas tão cedo. As inabaláveis certezas do neoliberalismo, que nos mantiveram presos por tanto tempo, desabaram. Apesar disso, não parecemos conseguir mover adiante. Fúria e protestos irromperam à volta de diferentes aspectos das crises, mas não pareceram resultar em nenhuma reação comum ou consistente. Um sentimento generalizado de frustração marca as tentativas de sair do pântano de um mundo em colapso.
Há uma crise da crença no futuro que nos deixa ante um presente infindável, que, embora se deteriore, permanece por pura inércia. Apesar de todo esse torvelinho – nosso tempo de ‘crise’, quando parece que tudo poderia e deveria ter mudado –, há o sentimento de que, paradoxalmente, a história parou. Não há disposição ou habilidade para encarar a verdadeira escala da crise. Indivíduos, empresas e governos enfiaram-se nas respectivas tocas, na esperança de só reaparecer quando o velho mundo voltar a emergir dentro de alguns anos. O pensamento positivo que enxerga ‘retomadas’ em toda parte trata o que é uma crise epocal como se fosse uma crise cíclica; nada mais que otimismo assustado. Sim, quantidades astronômicas de dinheiro conseguiram impedir o completo colapso do sistema financeiro, mas o ‘resgate’ (de bancos, empresas e seguradoras) serviu para evitar, não para desencadear, qualquer mudança. Estamos presos num limbo.
A crise do meio
Mesmo assim, algo aconteceu. Lembra daqueles dias assustadores, mas excitantes, do final de 2008, quando tudo aconteceu tão depressa, quando os velhos dogmas tombavam como folhas secas? Eles eram reais. Algo ocorreu ali: os modos de fazer as coisas mil vezes tentados e testados, bem ensaiados depois de quase trinta anos de neoliberalismo global, começaram a enguiçar. O que se considerava óbvio já não fazia sentido. Houve uma mudança naquilo que chamamos o meio do campo [middle ground]: nos discursos e práticas que definem o centro da arena política.
Obviamente, o meio do campo não é tudo, mas é aquilo que atribui às coisas no mundo à volta maior ou menor relevância, validade marginalidade. Trata-se de um centro relativamente estável, em relação ao qual tudo mais é medido. Quanto mais distante do centro estejam uma ideia, um projeto ou uma prática, maior a probabilidade de que sejam ignorados, publicamente desqualificados ou, seja como for, suprimidos. Quanto mais próximos do centro, maior a chance de serem incorporados – incorporação que, em maior ou menor grau, altera o meio do campo de alguma forma. O meio do campo tampouco é definido ‘de cima’, como em algum sonho conspiratório. O centro emerge de diferentes modos de fazer, ser, pensar, falar que vão se entretecendo modo a se reforçarem mutuamente enquanto elementos individuais e enquanto todo. Quanto mais unificado ‘de baixo para cima’ como meio de campo, mais esse meio de campo adquire um poder de unificação ‘de cima para baixo’. Nesse sentido, os contornos de algo como o ‘neoliberalismo’ foram definidos antes de uma coisa com esse nome existir; mas o momento de sua nomeação enquanto tal marcou um salto qualitativo: foi o ponto no qual políticas, teorias e práticas relativamente desconexas tornaram-se identificáveis como formando um todo.
A nomeação de coisas como “o Thatcherismo” na Grã-Bretanha ou “o Reaganismo” nos EUA marcaram aquele salto qualitativo para coisas que se vinham constituindo desde antes, havia algum tempo, e que, durante três ultimas décadas anos, têm dominado o meio do campo: o neoliberalismo, ele próprio uma resposta à crise do meio do campo de antes – o Fordismo/Keynesianismo. A era do New Deal e seus vários equivalentes internacionais tinham assistido ao crescimento de uma poderosa classe trabalhadora que crescera habituada à ideia de que suas necessidades básicas deveriam ser supridas pelo Estado de bem-estar; que os salários reais deveriam aumentar; e que teriam direito sempre a mais. De início, a pedra central do projeto neoliberal foi um ataque contra essa classe trabalhadora sempre mais ‘exigente’ e contra as instituições do Estado nas quais se inscreveram as antigas concessões de classe. Os serviços prestado pelo Estado começaram a encolher, os salários ou não aumentaram ou foram reduzidos, e generalizou-se a precariedade como condição de trabalho.
Esse ataque custou seu preço. O New Deal havia integrado poderosos movimentos de trabalhadores – sindicatos com base de massa – ao meio de campo, o que contribuiu para dar estabilidade a um longo período de crescimento capitalista. E garantiu salários suficientemente altos para que toda a produção gerada por um sistema industrial repentinamente muito mais produtivo – baseado na linha de montagem de Henry Ford e na ‘administração científica’ [‘scientific management’] de Frederick Taylor – pudesse ser consumido. Pouco a pouco, o feroz ataque contra a classe trabalhadora do norte global foi compensado por baixas taxas de juros (i.e. crédito barato) e pelo acesso a bens baratos, produzidos em massa em áreas nas quais os salários eram mais baixos (como a China). No sul global, a perspectiva de um dia chegar às mesmas condições foi prometido como possibilidade futura. Nesse sentido, a globalização neoliberal foi a globalização do sonho americano: enriqueça ou morra tentando.
Claro, o neoliberalismo também repousava sobre algum tipo de ‘pacto’. Mas a palavra aqui tem significado diferente: o seu modo de atrair/incorporar era bem diferente do modo Fordista/Keynesiano. O Fordismo/Keynesianismo envolvia forças coletivas visíveis e constituídas, mediadas por sindicatos ou organizações de agricultores e produtores rurais; o neoliberalismo trabalhou como um suborno que progressivamente diluía o pacto original, dirigindo-se aos indivíduos diretamente como indivíduos. Foi um meio de campo que emergiu de desejos, discursos e práticas ‘desviantes’ que buscavam modos de escapar do meio de campo então existente (o medo de que os sindicatos se houvessem tornado poderosos demais; o incômodo com a tediosa uniformidade geral; práticas paraestatais de corrupção, que compensavam uma vida super-regulamentada). Nesse sentido, seu vetor principal era a individualização. De fato, ele buscava criar um certo tipo de indivíduo, um empreendedor atomizado cujos laços sociais coletivos são subordinados à busca de ganho privado.
Crise do comum
Hoje, o pacto neoliberal está nulo e sem efeito; o meio do campo esfacelou-se. Acabou a era do crédito barato, quando a valorização de patrimônios e desvalorização de commodities compensavam a estagnação dos salários. Aquele tempo passou, mas ainda não se vê novo meio de campo já ‘retecido’. Ninguém ’fechou’ qualquer novo ‘pacto’. Por isso estamos num limbo.
É essencial deixar claro: pactos e meio de campo não andam necessariamente de mãos dadas. Um novo meio de campo pode resultar de um pacto, explícito (como o do New Deal dos anos 30s) ou implícito (como o neoliberalismo); de fato, se resultar de pacto, o meio de campo será mais firme, mais estável. Mas um novo centro da arena política pode também emergir sem pacto algum. O meio de campo não exige o grau de consenso que tem de haver num pacto; o consenso é condição suficiente, mas não necessária. O meio de campo, isso sim, envolve sempre um processo de atração e incorporação de forças que o podem ameaçar – um processo definido pelos próprios termos de cada meio de campo emergente.
Fazer um pacto é como aceitar – conscientemente ou não – uma trégua (temporária) depois de uma batalha feroz. Mas é possível que um meio de campo se estabeleça em pleno período de conflito e contestação – uma arrastada guerra de atrito. Do ponto de vista especial no qual estamos hoje, ainda desconhecemos muitas coisas. Evidentemente, não podemos predizer a duração ou o resultado da disputa em torno do que se poderá se converter em novo “senso comum” político. Os lados ainda não estão claros; só depois de a luta estar em curso é que se pode saber quem são nossos aliados. Assim sendo, quem combaterá quem, e em torno do quê? Qual será o território comum aos movimentos nas novas lutas, e nas que virão depois?
Nosso conceito de “território comum” é, como o de “meio do campo”, uma ferramenta de teoria. Usamo-lo para dar nome às intersecções e ressonâncias de várias lutas, práticas, discursos, alvos e referentes. No movimento de alterglobalização de antes, o território comum foi o “Um Não” que partilhamos – contra a lógica monopolizante do neoliberalismo –, ao lado da aceitação de que havia “Muitos sims”[1], a multiplicidade de noções alternativas de economia, do comum e da socialidade. Por muitos anos, muitos movimentos encontraram-se e reconheceram-se como semelhantes nesse território comum de rejeição ao neoliberalismo – sem negar as diferenças entre eles. Mas o esfacelamento do meio do campo significa que um território comum baseado em um antagonismo contra o próprio meio de campo está hoje reduzido a ruínas.
Da loucura à normalidade?
Até há pouco, quem sugerisse a estatização dos bancos seria tomado por charlatão ou doido varrido, ignorante das ideias mais rudimentares de economia e do funcionamento de um ‘mundo complexo e globalizado’. O peso da ‘ortodoxia’ era tal, que ideia como essa seria desqualificada sem que sequer fosse preciso oferecer contra-argumentos. Contudo, ano passado, governos em todo o planeta efetivamente estatizaram porções enormes do setor financeiro, ao mesmo tempo que entregavam quantias vertiginosas de dinheiro público a instituições que, mesmo assim, continuaram sob o comando de mãos privadas. Movimentos semelhantes na órbita das ideias dominantes aconteceram em relação aos discursos sobre mudança climática e sobre o comum (commons). Um político ‘sério’ hoje em dia tem de, no mínimo, parecer preocupado com o aquecimento global. E a ideia de “comum”, há muito foco exclusivo da esquerda, também já entrou no vocabulário de intelectuais e políticos de centro: desde o reconhecimento dos ‘benefícios públicos’ do livre acesso a remédios mais baratos e a outros itens de propriedade intelectual, até cautelosas defesas na catecismo neoliberal da The Economist, e o falso[2] prêmio Nobel de economia dado a Elinor Ostrom por seus estudos sobre propriedade comum [the commons]. Junte-se tudo isso, e alguem poderia dizer que o centro de gravidade do discurso público moveu-se em direção à esquerda.
Mas, ao mesmo tempo, não se pode deixar de perceber que que as recentes estatização receberam, foram defendidas precisamente com o argumento de que era preciso salvar o capitalismo financeirizado, não como parte de um programa social-democrata de redistribuição e, muito menos, de alguma estratégia de transição para o socialismo. Do mesmo modo, a nova economia verde que hoje figura na pauta de todos os políticos visa a manter o mesmo modelo de produtivista desenvolvimento baseado em grandes corporações através de sua combinação com processos e energias mais ambientalmente sustentáveis.
A conclusão eh que as coisas realmente mudaram; mas, desde nosso limbo, ainda não podemos saber a extensão dessa mudança. Sejamos mais claros, então, sobre o que exatamente se moveu. A mudança mais óbvia, parece, aconteceu no plano do que se pode dizer – o que pode ser aceito como argumento válido ao invés de ser descartado e remetido às margens habitadas por ideólogos de olhos vidrados e os ignorantes. Nos seus dias de glória, a ideologia neoliberal foi vitoriosa em banir qualquer pensamento discrepante porque se apresentava como não-ideológica; como a simples aplicação ‘racional’ de uma ‘ciência’ da utilidade. Mas hoje já se pode ver (e dizer) que os pressupostos daquelas decisões racionais eram, é claro, ideológicos. O mercado não ‘tende’ ao equilíbrio; a maximização do autointeresse pode derrotar os instintos de autopreservação e levar a resultados menos que ótimos; e, em tempos de crise, o que quer que pingue [trickle down[3]] em direção aos pobres pode virar um enxurrada na direção contrária por meio de milionários ‘resgates’. As premissas desses argumentos supostamente não-ideológicos – como a conversão do “mercado” em dado natural governado por leis científicas só acessíveis aos economistas ortho-doxos (os da ‘opinião certa’), nunca aos hetero-doxos (os das ‘outras opiniões’) – foram, afinal, desmentidas. O núcleo mais duro da ideologia neoliberal tende a deixar de definir os termos do debate e, assim, deixará de modelar o espaço da política – o que é bom e mau (gasto, em vez de investimento público; privado eficiente versus público ineficiente; mercados, não planejamento). Assim, deixará de atrair em sua direção o centro de gravidade do debate. A ortodoxia neoliberal já não constitui o meio do campo da política em relação ao qual todas as demais opiniões têm de posicionar-se.
Liberalismo zumbi
Mas o desaparecimento do meio do campo ideológico significaria que a era neoliberal realmente acabou? Ou trata-se de apenas uma pausa, uma espécie de dieta radical para livrar-se de capitais e instituições ineficientes, para que o neoliberalismo reemerja ao final do processo mais magro e mais saudável? Por um lado, em vez de o sistema bancário ser reestruturado e os capitais financeiros ficarem subordinados a um comando político, a recente loucura dos ‘resgates’ mostrou-se apenas como nova modalidade de assalto massivo aos recursos públicos, exacerbando trinta anos de redistribuição de riquezas para cima. Por outro, esse grande assalto perdeu a justificativa ideológica e, afinal, foi revelado apenas com tal: um assalto. O neoliberalismo sempre teve dois lados. Sempre foi, ao mesmo tempo, um contra-ataque pelas elites contra conquistas dos trabalhadores e outros movimentos dos anos 30 em diante, uma tentativa de transferir riquezas de volta ao topo da escada social; e um projeto ideológico que dizia libertar ‘os mercados’ do jugo de intervenções arriscadas por governos e adjuntos.
Retirada a cobertura ideológica, o que sobra do neoliberalismo? Não mais um programa político-econômico (relativamente) coerente, ele tornou-se exército em retirada, um modo de minar o sistema político antes de abrir mão completamente de qualquer controle sobre ele. Mas as minas e armadilha que esse exército semeia pelo caminho, mesmo que sem sua antiga camuflagem, são ainda perigosas, mortais. Em todos os países nos quais se viram resgates e/ou crises financeiras, os gigantescos déficits gerados estão sendo usados exatamente por aquelas forças sociais que mais se beneficiaram deles (em termos absolutos) para argumentar que os débitos precisam ser pagos através de novas rodadas de austeridade e cortes de gastos. No momento em que entrega o comando a testas-de-ferro livres de qualquer tipo de obrigação de prestar contas, o neoliberalismo vai aprofundando suas raízes. O truque é simples: o setor financeiro usa as dívidas que se criaram para ‘resgatá-lo’ para fortalecer o seu continuado comando sobre a política.
O quadro é confuso, e fica ainda mais. À medida que o crédito seca e os preços de alimentos e energia sobem, os trabalhadores vêem os salários encurtarem e, no norte global, as dividas aumentarem – uma chamada ‘recuperação’ que não aumente massivamente os salários e/ou cancele dívidas pessoais nada poderá mudar nesse processo. O ‘pacto’ acabou. Mas se já não há pacto possível, nem há mais ideologia, que fim terá levado a base social do neoliberalismo – o bloco de poder neoliberal? Ele está perdido, se não totalmente esfacelado. Já não há qualquer grupo social que possa, com alguma credibilidade, declarar-se ‘líder’ na sociedade, na política, na cultura ou na economia. ‘O centro não se mantém’, o meio de campo está esfacelado, deixando atrás de si um exército confuso e cruel, instituições que já não são orientadas por qualquer marco coerente, partidos políticos que ainda disputam poder, mas que não têm qualquer programa político real.
Assim, se o bloco de poder está fraco, comprometido só com o transparente saque em grande escala do sistema que comandava; e se – sobretudo – o núcleo ideológico do neoliberalismo foi-se, por que um novo meio de campo não consegue emergir? Por que essa aparente mudança dos discursos em direção à esquerda não se traduz em medidas práticas? A resposta tem de considerar que o projeto neoliberal dependia muito menos da ideologia do que seus críticos tendem a pensar. Teorias e ideologias servem para criar ideólogos e ativistas neoliberais; mas a maneira como o neoliberalismo transforma nossa subjetividade e nossa percepção do possível não passa pela persuasão e argumentos. Essas são mudanças que ocorrem por via mais operacional que ideológica, quer dizer, ocorrem mediante intervenções na composição da sociedade. O neoliberalismo reorganiza os processos materiais de modo a fazer existir a realidade social que sua ideologia afirma que já existe. Ele trabalha para tornar reais os seus próprios pressupostos.
Ao invés de serem persuadidas pelo poder dos argumentos neoliberais, as pessoas são treinadas a ver-se como maximizadoras racionais de lucros, aquelas impalpáveis criaturas geradas pela teoria econômica. Esse adestramento ocorre mediante engajamento forçado nos mercados, não apenas em nossas atividades econômicas, mas em todas as esferas da vida: na educação, no tratamento de saúde, na atenção às crianças, em tudo. Consideremos, por exemplo, o sistema escolar britânico. Um exército de inspetores e estatísticos governamentais compilam montanhas de dados de desempenho das escolas; e espera-se que os pais usem essa informação para tomar melhores decisões no momento de escolher a escola dos filhos. A educação é vista como meio para adestrar o corpo para o mercado de trabalho; então, invoca-se a ‘escolha racional’ para justificar a canalização de alguns alunos para os sistemas de educação vocacional desde pequenos. Enquanto isso, pais ‘de classe média’ tentam maximizar a chance de os filhos ‘começarem bem desde cedo’ e contratam preceptores particulares, ou arrastam os filhos para a igreja todos os domingos (porque as escolas dominicais da Igreja Anglicana gozam de boa reputação).
De fato, as pessoas são forçadas a converterem-se em capital humano, pequenas empresas-de-uma-pessoa-só em encarniçada competição com outros – um átomo isolado, inteiramente responsável por si mesmo. Nesse contexto, faz sentido aceitar o ‘pacto’ individual que o neoliberalismo oferece. O neoliberalismo não é – ou não foi – uma questão apenas de mudança da governança global ou do modo como se devem governar os Estados. O neoliberalismo sempre tratou do gerenciamento de indivíduos, de como as pessoas seriam obrigadas a viver. Ele estabeleceu um modelo de vida e, em seguida, fixou mecanismos que conduzem as pessoas a ‘livremente’ escolher aquele modelo. Os dados são viciados. Hoje, se você quiser participar na sociedade, você terá de agir como homo economicus.
Em vários sentidos, é essa codificação neoliberal, que não rege só instituições públicas e programas políticos, mas também o nosso próprio ser, que nos mantém presos no limbo. O neoliberalismo está morto, mas parece que ainda não percebeu. Embora o projeto já não ‘faça sentido’, sua lógica continua a operar, como um zumbi de um filme de horror dos anos 70: feio, persistente e perigoso. Se ainda não há novo meio do campo suficientemente coeso para substituir o velho, essa situação pode perdurar por algum tempo… Todas as grandes crises – da economia, do clima, de alimentos, de energia – seguirão sem solução; a estagnação se estabelecerá como tendência de longo prazo (lembre que a crise do Fordismo durou mais de uma década, os anos 70, antes de ser superada). Essa é a ‘não-vida’ de um zumbi, um corpo que perdeu sua projetualidade, incapaz de ajustar-se ao futuro, incapaz de fazer planos. O zumbi só consegue atuar pelo hábito, continuando a operar à medida em que se decompõe. Não é o estado em que nos vemos hoje, no mundo do liberalismo-zumbi? O corpo do neoliberalismo ainda anda, mas sem direção ou teleologia.
Qualquer projeto que vise a destruir esse zumbi terá de operar em vários diferentes níveis, exatamente como o neoliberalismo fez; o que implica que tem de articular-se enquanto um novo modo de viver. E tem de começar do aqui e agora, da atual composição da sociedade global, grandes porções da qual ainda estão sob o domínio do zumbi neoliberal. Esse é o maior desafio que enfrentam os que defendem um Novo Pacto ou um Pacto Verde. Não é caso de simplesmente mudar o modo de pensar da elite ou de dar palpites sobre gastos do governo: é preciso uma mudança mais fundamental. Não apenas uma mudança de consciência na cabeça da sociedade, mas uma transformação do corpo social.
O centro e o comum
Podem-se detectar vários sintomas da degradação do velho meio de campo. Em certo sentido, aí está o significado do fenômeno Obama. Um projeto político que chega ao poder numa maré de vagas promessas de ‘esperança’ e de ‘mudança’ diz menos sobre a força de suas ideias do que sobre a fraqueza de outras ideias. Ao mesmo tempo, do outro lado do Atlântico, vimos o colapso da esquerda parlamentar em inúmeras eleições recentes. No poder ou fora dele, vários partidos europeus de centro-esquerda foram punidos nas urnas, e aumentou o número de votos da direita. Muitos se espantaram que a as culpas pela crise econômica parecer cair sobre a esquerda, mas a esquerda que abraçou o neoliberalismo tornou-se mais neoliberal que a encomenda: aquela esquerda viu o neoliberalismo como força progressista que poderia levar o desenvolvimento até as pobres do mundo. (Não há pior crente que um convertido.) O colapso dessa ilusão levou ao colapso da esquerda neoliberal.
Será que isso significa então que os muitos críticos pela esquerda do neoliberalismo (e às vezes, o capitalismo), dos partidos da esquerda radical ao salterglobalistas de Seattle e Gênova, podem agora dormir sobre os louros? Podem dizer agora que sempre tiveram razão ao não se opor apenas à tríade neoliberal de financeirização, desregulação e privatização, mas a toda a ‘Terceira Via’? Incluímos-nos entre esses críticos, e não há dúvidas de que acertamos sobre alguns desses temas – por exemplo, quanto à fragilidade do sistema neoliberal de crédito. Mas um dos maiores erros que cometeríamos agora seria pretender que as velhas respostas e certezas ainda sejam válidas. Com o desaparecimento do velho território comum de todos os antineoliberalismos, e a emergência de novas lutas, temos agora de reexaminar a questão sobre quem somos (ou fomos) ‘nós’. Temos também de construir um novo ‘nós’. Precisamos de uma nova atenção às respostas que estão surgindo na atual conjuntura. Precisamos ter capacidade para reconhecer os níveis nos quais essas respostas ocorrem e empreender esforço efetivo para identificar os pontos nos quais elas sobrepõem-se e reforçam-se. Em outras palavras, precisamos – coletivamente – criar, identificar e nomear novos territórios comuns.
Dar nome a um território comum é, na maior parte, trabalho de análise: visa a identificar os componentes e a direção de diferentes trajetórias, e atuar sobre eles para reforçar as comunalidades, trabalhar as tensões que possam ser resolvidas, reconhecer a fonte das tensões insuperáveis. Claro, o ato de nomear algo como território comum sempre implica propor uma síntese parcial; mas essa síntese só pode ser tão efetiva quanto for profunda a análise que lhe subjaz. E só funcionará na medida em que o que for nomeado significar algo para aqueles aos quais se dirige o próprio ato de nomear.
Territórios comuns, como meios de campo, têm dois aspectos. De um lado, são ‘objetivos’: várias práticas, subjetividades, lutas e projetos podem partilhar vários aspectos comuns ou possuir ressonâncias mútuas, mesmo sem que saibam da existência dos outros. De outro lado, territórios comuns podem ter um lado subjetivo, que exige alguma autoconsciência e a habilidade para reconhecer o que há de comum em outras lutas e projetos. A rejeição pelo “Um Não” ao neoliberalismo é exemplo óbvio de um território subjetivo autoconsciente. É necessário um esforço ativo para identificar territórios comuns, mas identificá-los e preservá-los pode torná-los mais efetivos. Essa autoconsciência cria um movimento de retroalimentação que contribui para dar mais consistência ao território comum e extrapola a habilidade que o meio do campo tem de contê-lo. Territórios comuns incluem um elemento de autonomia, fazendo suas próprias perguntas nos seus próprios termos.
O que nos leva à questão seguinte: como os territórios comuns afetam o meio de campo? Para começar, isso ocorre frequentemente de maneira invisível, como forças centrífugas que contrabalançam o impulso centrípeto do meio do campo. São novas práticas e modos de viver e pensar desviantes em relação à síntese; espalham-se, sem necessariamente tornar-se um desafio visível ao centro. Pensem nas muitas lutas ocultas nas fábricas, nas empresas e escritórios, nas quais os trabalhadores que lutam não chegam a fazer greve; no impacto sobre a sociedade de gays e lésbicas que cavam nichos para seus desejos; nas religiões sincréticas da América Latina e África, mediante as quais nativos e escravos praticavam seus cultos tradicionais bem diante do nariz dos colonizadores. Pensem no advento da pílula e o poder que a mesma concedeu às mulheres sobre o próprio corpo, produzindo mutações nas relações sexuais, em papeis sociais e identidades.
Fenômenos como esses tornam-se visíveis quando atritam contra o meio do campo, entrando em conflito com instituições e práticas existentes. Os territórios comuns problematizam o modo como o mundo está composto pelo meio do campo, colocando questões que o meio do campo não consegue equacionar. O efeito desses territórios comuns não conscientes/nomeados e as mutações que eles produzem podem ainda ser limitados, e muitas vezes são alvo de alguma forma de desqualificação ou repressão. Territórios comuns tornam-se mais poderosos, e seus efeitos, mais pronunciados, quando são feitos tanto visíveis quanto nomeados. É quando sua força centrífuga é transformada em antagonismo aberto.
Mas esse antagonismo não é simplesmente um fim em si mesmo. Durante os anos 90s, quando o meio de campo neoliberal estava no auge de sua força ‘hegemônica’, foi necessário nomear e manter um antagonismo à distância do meio do campo, precisamente porque um dos dogmas do neoliberalismo – o ‘fim da história’ – proclamara o fim de todos os antagonismos. Hoje, a situação é outra. Globalmente, a esquerda parece fraca, mas a fraqueza simultânea e equivalente do meio do campo dá a ‘nós’ oportunidade única para intervir na formação de um novo meio de campo. O trabalho de nomear os novos territórios comuns é, ao mesmo tempo, o trabalho de potencializar nosso poder para influenciar o resultado das muitas crises globais, influenciando o modo como são enfrentadas.
Temos de saber, contudo, que a emergência de um território comum que desestabiliza um meio de campo não é necessariamente uma coisa boa. Pode-se pensar aqui na própria gênese do neoliberalismo. A Sociedade Mont Pelerin, fundada por Friedrich Hayek em 1947, estudou ideias de livre-mercado ao longo da ‘idade de ouro’ do Keynesianismo, como fez o círculo de admiradores reunidos à volta do escritor e filósofo russo-norte-americano Ayn Rand, nos anos 50s. Entre os membros da Sociedade Mont Pelerin estavam George Shultz e Milton Friedman. – Shultz trabalhou para os governos de Nixon e Reagan e, na Universidade de Chicago, ambos treinaram os “Chicago boys” que liberalizaram as economias nacionais na América Latina nos anos 70s e 80s. O jovem Alan Greenspan, que mais tarde seria presidente do Federal Reserve, participou do círculo de Rand. Esses pensadores e ativistas do livre-mercado fizeram um trabalho teórico crucial na articulação e nomeação de um território comum que abalou profundamente o meio de campo Keynesiano/Fordista, e viria a destruí-lo.
Rumo a novos territórios comuns?
Mas embora pareça que estejamos presos no limbo, a história continua a ser feita. Nos anos recentes, vimos irromper uma multiplicidade de lutas, umas mais visíveis que outras. Em áreas do norte global, emergiu um movimento de ação direta contra a mudança climática e pela justiça climática que tem crescido rapidamente. Houve uma crescente atividade política em torno das universidades – como as ondas de ocupação e greves em toda a Itália contra a Lei de Reforma da Educação italiana, ou os protestos de massa contra aumentos nos salários pagos a uns (e demissão de outros) professores da Universidade da Califórnia. Em alguns casos, movimentos de protesto emergiram contra questões diretamente ligadas à crise financeira, por exemplo na Islândia, Irlanda, França (lembram da moda de ‘bossnapping’[4]?); ou, como na Grécia, eles se alimentaram do mal-estar social difuso ante a falta de perspectivas para a ‘geração 700 euros’. Na América Latina, a parte do mundo na qual as forças de esquerda têm estado em ascensão há uma década, houve disputas explosivas de povos indígenas pelo controle de recursos naturais. Povos nativos do Peru enfrentaram com sucesso o exército do governo, e evitaram que florestas e rebanhos fossem destruídos no trabalho de prospecção de novas campos de petróleo. Alhures, o Movimento para a Emancipação do Delta do Níger enfrentou o exército nigeriano e impediu que várias instalações da Shell continuassem a operar naquela área. Na Coreia do Sul, operários demitidos da fábrica de carros SsangYong, em Seul, enfrentaram polícia e exército, ocuparam a fábrica e só foram desalojados depois de massiva operação de segurança.
Embora a lista seja bem mais longa que isso, é difícil negar a impressão de que essas lutas permaneceram relativamente desconectadas umas das outras. Em geral, pode-se dizer que não tiveram suficiente ressonância para que, a partir delas, se constituíssem novos territórios comuns. Mas pode-se extrair delas algumas certezas e, a partir delas, talvez seja possível identificar algumas tendências emergentes. Em primeiro lugar, e o mais importante, sabemos que numa crise epocal como essa, tanto o centro quanto os novos territórios comuns terão de emergir, primeiro, em torno das problemáticas que pressionaram a era antiga por dentro.
Consideremos outra vez a crise do Fordismo. À altura dos anos 70s, não apenas os salários persistentemente altos haviam levado a uma crise de rentabilidade, mas, ainda, havia medos largamente disseminados de que os sindicatos se tivessem tornado fortes demais; de que o Estado gastasse demais e estivesse burocratizado demais; de que a vida estivesse uniforme demais. O sucesso do projeto neoliberal, pelo menos em sua pátria anglo-norte-americana, deveu-se em parte ao fato de que o projeto neoliberal efetivamente enfrentou esses medos e problemas, que capturou desejos, discursos e práticas previamente ‘desviantes’, prometendo aos indivíduos que seriam capazes de realizá-los. Quando esmagou os sindicatos, detonou a burocracia do Estado de bem-estar, derrubou a inflação e pôs fim à estagnação, o neoliberalismo, por um lado, efetivamente atacou os problemas que haviam forçado a crise do New Deal; por outro lado, lançou as sementes de um novo conjunto de problemas sistêmicos que logo emergiriam.
A primeira e mais imediatamente óbvia problemática aparente na crise do neoliberalismo mostra diferentes feições, conforme o ponto de onde seja observada. O que, olhado ‘de cima’, parece ser uma ‘crise econômica’ (crescimento insuficiente, lucros insuficientes, demanda insuficiente) é experienciado ‘desde baixo’ como uma ‘crise de reprodução social’. O desemprego cresce, enquanto os déficits nacionais impõem limitações cada vez mais pesadas à seguridade social. A resposta liberal zumbi tem sido, afinal, autodestrutiva: resgatar os bancos e algumas indústrias ‘bem relacionadas’ (mas com alto custo para os governos, aumentando os gastos deficitários); tentar re-inflar a bolha do crédito barato; e esperar que alguém tome emprestado o dinheiro oferecido. Infelizmente, não há fonte de demanda de massa, nenhum consumidor de último recurso, nem oportunidade de novos investimentos em larga escala. No fim dessa estrada só há ruína à espreita.
Essas duas perspectivas de uma mesma crise obviamente requerem duas diferentes respostas ‘lógicas’. Enquanto a reação do liberalismo zumbi faz sentido segundo sua própria lógica morta-viva, a resposta lógica à crise de reprodução social talvez seja uma estratégia de construir comuns. Seria uma defesa, criação e expansão de recursos feitas em comum e acessíveis a todos: expandir o transporte público, socializar o atendimento à saúde, garantir renda mínima universal etc. Esse tipo de estratégia alcançaria duas metas essenciais e associadas uma à outra. Primeiro, responderia aos nossos medos imediatos de não sobreviver – porque criaria espaços nos quais se torna possível a reprodução social, fora dos circuitos do capital curto-circuitados pela crise. Segundo, iria contra a atomização causada por três décadas de subjetivação nos mercados – assim como engajar-se em interações baseadas no mercado tende a criar sujeitos-de-mercado, engajar-se na construção de comuns tende a criar subjetividades ‘comunísticas’. E se outra resposta, também ‘lógica’, à crise econômica é a barrar o acesso das pessoas a recursos coletivos, então a criação de comuns abertos, como resposta à crise de reprodução social, enfrentaria também essa questão. Comuns abertos enfraqueceriam as políticas nacionais, racistas, que estão ganhando espaço na Europa, com certeza, e em partes da África e da Ásia.
Uma segunda problemática central é a da biocrise, das muitas crises socioecológicas que atualmente afligem o mundo como resultado da contradição entre a necessidade de crescimento infinito de parte do capital, e a evidência de que habitamos um planeta finito. Aqui também, a biocrise tem duas faces. Do ponto de vista dos governos e do capital, aparece como ameaça emergente à estabilidade social. A mudança climática está matando rebanhos e plantações, o que faz subir o número de pessoas obrigadas a garantir sua reprodução por vias extra-legais. Muitos governos temem movimentos em larga escala de ‘refugiados climáticos’. A pirataria é uma resposta de pescadores da Somália e de outros à pesca predatória e poluição na costa do Chifre da África. Mas o capital e os Estados também percebem precisamente essas ameaças à estabilidade social como oportunidades para relegitimar a autoridade política, para expandir os poderes de governo e dar a partida numa nova rodada de crescimento econômico ‘verde’, cujo combustível será composto de urânio e austeridade.
Mas a biocrise, como diz o nome, ameaça a vida; e, desproporcionalmente, ameaça mais a vida dos que menos fizeram para causá-la. Cada vez mais, os movimentos que crescem em torno dessa contradição – entre capital e vida, crescimento e limites – o fazem em referência à noção de justiça climática: a ideia que respostas à crise deve desmontar, ao invés de exacerbar, as injustiças e desequilíbrios de poder existentes, e que sua construção do conceito de justiça climática deve envolver a participação direta de afetados e afetadas.
Claro, não podemos ter certeza de que emergirão novos meios de campo e novos territórios comuns à volta dessas questões – a crise econômica/crise de reprodução social e a biocrise –, mas estamos convencidos de que qualquer novo projeto, para ser bem-sucedido, terá necessariamente de levá-las em consideração.
Dos comuns às constituições
Deixar que brote um novo território comum implica um momento de graça, um distanciamento dos pressupostos, táticas e estratégias do ciclo de protestos antineoliberal e antiglobalização da virada do século. O território comum construído e mantido a partir daquele período tem de ser recomposto pelo prisma de nossa situação contemporânea.
O movimento antiglobalização tinha grande desconfiança – frequentemente uma aberta oposição – às instituições per se, a todo forma constituídas de poder.. Essa suspeita foi evidente, por exemplo, nas tensãos internas de uma de suas manifestações mais institucionalizadas, o Fórum Social Mundial. As suspeitas e o ceticismo do movimento antiglobalização tiveram, é claro, seus bons motivos: resultado do reconhecimento, por todos, de que a ideologia neoliberal conseguira colonizar a maioria dos partidos e sindicatos social-democratas.
Mas quando irrompeu a crise do neoliberalismo, ficou evidente que essa desconfiança das instituições implicara uma incapacidade de dar forma consistente à políticas e à economia. O antagonismo contra as instituições, como um fim em si mesmo, é beco sem saída. O poder para esvaziar instituições abre um vácuo que a política – que abomina o vácuo – tende a preencher com as artimanhas da cooptação aos poquinhos. Momentos de antagonismo ou são parte do processo de construção de autonomia e constituição de novas formas de poder, ou se expõem ao risco de dissipar-se ou, pior, de reações brutais. Hoje, é preciso ter mais do que demonstrações esporádicas de força: precisamos de formas de organização que comecem no manejamento coletivo de necessidades, que politizem as estruturas e mecanismos da reprodução social e que, de lá, gerem e acumulem força. Que formas poderiam ter, nas condições atuais? Campanhas contra despejos, em torno do custo de contas de luz, água etc., da dívida privada, dos recursos energéticos…? Em qualquer caso, precisamos de intervenções que partam da vida compartilhada e daí alimentem sua consistência; que usem os momentos de antagonismo para fazer aumentar o seu próprio poder constituinte, nunca como fim em si mesmos.
Se, há dez anos, com a doutrina neoliberal no auge de seu poder e muitas vias institucionais completa e verdadeiramente bloqueadas, a rejeição direta foi tática crível, o chão rachado no qual andamos hoje nos propõe problemas muito diferentes.
Temos, na verdade, alguns exemplos atuais de importantes transformações que conseguiram inscrever-se em formatos institucionais. As mais notáveis são sem dúvida os processos constituintes na Bolívia e no Equador, que resultaram em constituições políticas que representam inovações radicais, não só em relação à história de cada país, mas em relação ao próprio constitucionalismo. Antes de tudo, porque dão forma a novos arranjos de forças nos quais, pela primeira vez na história de cada país, a vasta maioria da população realmente tem direito à voz e alcançou certo grau de representação. Mais que isso, contudo, ao instituir a plurinacionalidade como princípio do Estado, aqueles países apontam para uma ruptura com as noções modernas de soberania, e reconhecem múltiplas formas de soberania autônoma dentro do próprio Estado, ao mesmo tempo em que declaram e reconhecem a dívida histórica do processo de colonização. No caso do Equador, de fato, não é apenas a plurinacionalidade, mas o conceito indígena de “bom viver” (sumak kausay) e os “direitos da natureza” que foram legislativamente inscritos como princípios. O conceito de “direitos da natureza”, inovação única na história do Direito, decorre diretamente do conceito de “bom viver”: o “bom viver” implica necessariamente o ambiente onde se vive – não como fonte de que, mas como meio em que se vive.
A idéia de que o mundo teria encontrado no Estado parlamentar moderno uma forma definitiva não aperfeiçoável foi o eixo em torno do qual se construiu a doutrina do ‘fim da história’. Ao mesmo tempo em que se opôs enfaticamente àquela doutrina, o ciclo do altermundismo pareceu aceitar a mesma premissa, em forma invertida: as instituições seriam, então, imunes a qualquer mudança. Mas rejeitar as instituições-como-as-conhecemos não implica rejeitar as instituições em si.
Seja como for, aquelas constituições não podem ser mais que apenas um começo e, em certo sentido, o verdadeiro processo constituinte começa depois de as leis estarem escritas: o preencher a letra da lei com significado por meio de transformações reais. Esse, sim, é o teste crucial pelo qual, em pouco tempo, a ‘maré rosada’ latino-americana terá de passar. A questão está menos na ameaça de algum tipo de regressão organizada (como no caso de Honduras e, suspeita-se agora, talvez em breve o Paraguai), quanto no destino futuro daquelas que são tidas como suas maiores ‘histórias de sucesso’. Claro, trata-se também de novo meio de campo e de novos territórios comuns: trata-se de o quanto esses processos podem afastar-se do velho meio de campo, e de quais novos territórios comuns terão de ser construídos para dar-lhes forma. As experiências recentes na América Latina foram e continuam a ser contraditórias: o reconhecimento dos “direitos de natureza” e do “bom viver” anda de mãos dadas com o renascimento do desenvolvimentismo, com a exploração cada vez maior dos recursos naturais e com uma renovada ênfase na exportação de matérias primas. A pergunta que realmente importa é: terá todo o poder constituinte dos movimentos existentes se consumido nesse processo? O período que virá será mais de consolidar ganhos ou mais de aumentar as apostas – de manobras táticas de retaguarda, ou de movimentos de avanço estratégico? No Brasil, como na Bolívia, Venezuela etc., novas dinâmicas ativas abaixo do plano do Estado recuperarão a energia de transformação que criaram a situação que há hoje, ou veremos esfriamento e cristalização?
*****
Que relevância têm esses processos e essas questões, para os que não vivem na América Latina? Em vários sentidos, o continente, com atores institucionais sensíveis ao território comum dos movimentos sociais, parece uma anomalia. De fato, esse status anômalo talvez seja sintoma do fracasso do neoliberalismo. A maior parte do mundo enfrenta sintomas diferentes e um conjunto diferente de questões: se o liberalismo zumbi é modalidade ainda existente de governança, como podem os movimentos sociais afetar o mundo ao largo? Se não há meio de campo dominante contra o qual os territórios comuns emergentes se confrontem, como, afinal, podem as lutas se tornar visíveis? Como constituir antagonismos um contra um inimigo que perdeu a coerência? Se as subjetividades neoliberais continuam a ser reproduzidas, como, então, interromper esse processo e criar novos sujeitos,?
De fato, muitas das atuais lutas tem como premissa a ideia de que o liberalismo zumbi não durará muito e que um novo meio de campo emergirá. Consideremos os movimentos em torno da mudança climática, nos quais não se combate apenas a inação, mas também, simultaneamente, o modo como o problema tem sido proposto e enquadrado e as soluções propostas. Dessa perspectiva, a anomalia latino-americana pode parecer um posto avançado de um futuro potencial, e suas problemáticas podem aparecer como oportunas. Aí está a verdadeira dificuldade de agir numa crise. Quando o futuro é muito incerto, temos de operar em vários diferentes mundos ao mesmo tempo. Temos de nomear um território comum, ao mesmo tempo em que o mantemos abertos para novas direções. Temos de procurar interlocutores institucionais, ao mesmo tempo em que, pelo menos em parte, caberá a nós mesmos criá-los. Temos de definir as condições para que um novo meio de campo possa emergir, sem, ao mesmo tempo, nos deixar prender dentro dele.
Todas essas, é claro, são tarefas difíceis, mas esse é o meio para construir um novo ‘nós’. Hoje, até o menor passo talvez pareça quase impossível, mas uma vez que novos territórios comuns comecem a tomar forma, as coisas podem andar muito depressa. A fragilidade do atual estado de coisas é tal que qualquer pequeno movimento pode levar a efeitos dramáticos. Pode não ser preciso muito para fazer um mundo preso na entropia converter-se em um mundo pleno de potencial.
Em inglês, em http://turbulence.org.uk/turbulence-5/life-in-limbo/
Turbulence é um projeto editorial coletivo produzido por sete pessoas vivendo em quatro países, em três continentes, existente desde 2006, embora muitos de nós já se conhecessem e tivessem trabalhado juntos antes, em diferentes movimentos e espaços do alterglobalismo. Esperamos oferecer um espaço sempre em construção no qual se possam pensar, debater e articular as teorias políticas, sociais, econômicas e culturais desse ‘movimento de movimentos’, além das redes de práticas e alternativas diversas que orbitam à sua volta. Podemos ser contactados pelo email: editors[at]turbulence.org.uk
Turbulence são: David Harvie, Keir Milburn, Tadzio Mueller, Rodrigo Nunes, Michal Osterweil, Kay Summer, Ben Trott.
Additional translations of this article: English original (published in Turbulence 5) | Danish (published byModkraft.dk) | Dutch (published by GlobalInfo.nl) | German (published by analyse & kritik) | Spanish [PDF] (published by Herramienta and in our Spanish edition) |Turkish (published by Birikim) | Swedish [PDF] (published by Brand) | Italian (published by Loop). Translations of other Turbulence articles can be found here.
* Turbulence são David Harvie, Keir Milburn, Tadzio Mueller, Rodrigo Nunes, Michal Osterweil, Kay Summer and Ben Trott. Podemos ser contatados pelo email editors@turbulence.org.uk. Traduzido, para o português do Brasil, por Caia Fittipaldi (caia.fittipaldi@uol.com.br), em dezembro de 2009.
[1] Referência ao slogan zapatista “um não, muitos sims”.
[2] O Nobel de Economia é o único premio da Real Academia Sueca de Ciências que não foi criado por Alfred Nobel, mas criado posteriormente por economistas e banqueiros com dinheiro da Fundação Nobel.
[3] “Trickle down effect” [“efeito de ‘pingamento’ ou ‘gotejamento’”] é um pilar do pensamento neoliberal segundo a qual a redução de impostos e desregulamentação para o “andar de cima” eh do interesse da sociedade como um todo porque a riqueza gerada para os mais ricos progressivamente “pinga” ou “goteja” sobre os mais pobres. (NT)
[4] Bossnapping [ing.] e séquestration du patron [fr.], literalmente significa “seqüestro de patrão”. Para uma referência na mídia corporativa brasileira, ver: http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/15/a-nova-moda-entre-os-franceses-e-o-boss-napping/ (NT).